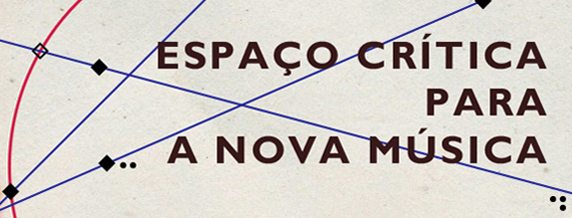Foto: © Teresa Santos
Entrevista MIC.PT – João Madureira
Como começou para si a música, e onde identifica as suas raízes musicais?
João Madureira: O início deu-se comigo a ouvir a minha avó a tocar piano – música clássica e popular. Um pouco de tudo. Naqueles momentos sentia que a música era uma espécie de pensamento, uma coisa mais funda. Uma espécie de pensar mais profundo. É isso que eu sentia, quando ouvia a minha avó a tocar piano. Naquela altura devia ter três ou quatro anos – a idade quando se tem as primeiras memórias do que se passa na vida.
Outro momento importante para mim surgiu com a Revolução de Abril. Poucos anos depois aprendi a tocar guitarra e fui contagiado pela ideia de que a música exprimia o que as pessoas sentiam perante a vida.
Que caminhos o levaram à composição?
JM: Com 15 ou 16 anos tomei a decisão de ir para uma escola de música, e escolhi logo a composição. Ela foi a minha primeira namorada. Como é óbvio, os meus pais ficaram muito preocupados comigo quando quis continuar os meus estudos superiores em composição. Eles preferiam que eu tivesse escolhido direito, por exemplo.
O que ouvia naquela altura?
JM: Naquela altura ouvia jazz, música popular, música clássica… e música contemporânea também, só que não percebia bem o que esta última era. Não a percebia, mas tinha muita curiosidade de aprofundar o meu conhecimento e a minha percepção desta.
O compositor que me mais fascinava e que me influenciou muito – obviamente, além de Bach – era Bela Bartók. Até começaram a chamar-me João Bartók.
Como se lembra do tempo que passou a estudar no estrangeiro?
JM: O tempo que passei no estrangeiro foi muito rico em experiências. Conheci pessoas do mundo inteiro – holandeses, polacos, russos, bielorussos, gregos, turcos, finlandeses, americanos e judeus. Isto foi entre 1997 e 2000. O que acho que foi importante para mim foi perceber que de repente estava ao lado de tudo – da República Checa, da Polónia, dos Países Baixos... Estava lá no meio e podia viajar até Praga ou Viena num instante.
Fui para Colónia em 1997, já depois da minha formação em composição em Lisboa, estudar com o compositor alemão York Höller. Mas antes estudei com Franco Donatoni, em 1995. Naquela altura soube que Donatoni gostava do mesmo andamento que eu do Quarteto de Cordas n.º 3 de Bartók. Não é por acaso que os seus amigos o tratavam por Donatok. Já depois de voltar para Portugal em 2000 frequentei mensalmente as aulas de composição de Ivan Fedele, em Estrasburgo.
Os portugueses dizem muito que se sentem afastados de tudo, que estão no fim da Europa...
JM: Não obstante, estamos ao pé de África, e é por isso que não nos devemos sentir assim. Estamos no nosso centro do mundo. Quando estive na Alemanha, as pessoas lá falavam-me de África e doeu-me que eles conhecessem a cultura musical africana melhor do que nós. Até György Ligeti, que era húngaro, tinha muito mais consciência da riqueza da cultura e dos ritmos africanos do que nós temos habitualmente em Portugal.
Há na sua música influências da música não europeia?
JM: Há, da música africana, entre outras. Contudo, presentemente estou num momento de mudança. A África que me interessa já não existe. É a África da República Centro-Africana, dos pigmeus. Comecei a usar vários elementos desta cultura musical, mas também me interessa muito a cultura de outros espaços do mundo, como por exemplo a Índia. É um aspecto mais recente.
Olhando para a sua obra percebe-se que gosta de “beber” de várias fontes, sejam não ocidentais, sejam do passado. Por exemplo na "Missa de Pentecostes" faz uma ligação muito forte à música antiga. Quando surgiu esta ideia, de tratar a música como um universo plural?
JM: As minhas primeiras composições eram mais ligadas à música serial e pós-serial. Depois passei por um fascínio pela escola espectral. Adorei-a – foi uma espécie de libertação do serialismo. Contudo, quando dominei esta técnica e estética, virei-me para as outras fontes, porque percebi que as podia reler com os olhos de hoje — foi por aí que fui e é por aí que estou a caminhar agora. Elas fazem parte de um espaço cultural múltiplo, que me interessa explorar.
Na minha Missa de Pentecostes não é só o reportório antigo que se abraça. Também a música popular está aí presente, com toda a sua intensidade, por exemplo no primeiro e no último números. Pela poesia e pela música há um convívio muito óbvio com a música popular, porque cresceu em mim a ideia de que os diversos tipos de música que nos habituámos a classificar e a espartilhar têm, afinal, uma base comum. Por isso, não me canso de defender o múltiplo: porque ele é, afinal, a forma suprema de unidade. E é curioso que, mesmo na música serial que marca parte da minha obra, está presente o apelo a valores que afinal são comuns a toda a música, e que quero hoje realçar.
Neste sentido, podia mencionar uma das obras que contribuiu para esta alteração?
JM: Se devesse escolher apenas uma, e esquecendo, por exemplo, Stimmung, de Stockhausen, e uma enorme quantidade de obras de Franco Donatoni, uma das obras que mais me influenciou foi, sem dúvida, a Sinfonia de Luciano Berio. Porque é uma obra que contém e consegue unificar o diverso que abraça, nos dá uma nova escala de tempo, nos diz que o passado, o presente e o futuro são categorias em mútua contaminação. Há aqui uma mudança face aos primeiros anos da modernidade, que nunca é demais realçar. É uma mudança filosófica, em que vemos que o conjunto da música é mais uno que pensamos e que não há o famoso divórcio da modernidade do início do século XX com a música que o precede. Mas também nunca é demais realçar que não existe divórcio entre a modernidade e aquilo que chamamos de pós-modernidade. Um compositor muito importante para se perceber a dimensão do que está em causa é hoje Wolfgang Rihm. Poderia também falar de John Adams. Onde muitos vêem cisão, eu insisto que há um contínuo. De resto, basta ouvir com atenção grupos de música rock e pop como os Radiohead, cujo guitarrista Jonny Greenwood teve aulas com Krzysztof Penderecki, para perceber como tudo está mais ligado do que habitualmente pensamos.
No que diz respeito às minhas peças, há várias em que abarco gestos que, pela sua natureza, integram o reportório clássico e popular, tendo em conta que foi uma espécie de processo. Wanderung, por exemplo, inicia-se com um gesto que não pertence exclusivamente a nenhuma época: são duas notas, um desejo de ascensão. O próprio título da peça faz referência a uma caminhada. É essa caminhada que pretendo para a música, e, mais genericamente, para o todo cultural que nos circunda. Por exemplo, Toc Toc Toc, que compus para o Teatro Musical do Sond’Ar-te Electric Ensemble, foi muito importante na medida em que reúne vários tipos de linguagem musical e uma história infantil de Hélia Correia.
Mas mais: eu acho que é preciso descentralizar a música e o próprio objecto musical. A meu ver, quando olhamos para o passado, continuamos muito viciados por Schönberg, talvez, e pelo espartilho que a história da música nos legou. Por exemplo Bach não tem centro nenhum à partida. A sua música é, pelo contrário, a demonstração de que algo que é aparentemente centrado é, afinal, múltiplo.
As ideias que exprime podem inscrever-se na atitude pós-moderna. O que para si significa ser pós-moderno?
JM:. Na minha opinião eu sou pós-pós-moderno. Ou seja, não acho que tenhamos que saber muito bem onde estamos. Tenho a certeza que estou com o coração, e que o mundo é plural. Para mim não existe nenhuma coisa ortodoxa, como por exemplo uma série na música. Não existe nenhum material definido à partida, e a sua eleição é em si própria parte do processo criativo.
Estas conclusões levaram-me a perceber a música de uma forma mais emocional, como um universo múltiplo. Presentemente não quero ver o modo de fazer, mas interessa-me a vertente política, no sentido lato, que a música tem. Para mim faz sentido dizer que a música é filosofia, é política, e que, por sua vez, é uma forma de habitar o mundo.
Actualmente, prefiro não ter um material previamente definido. O material que uso está sempre em construção. Quando estamos a compor, achamos sempre que há só uma solução, mas talvez ela esteja escondida na relação entre várias coisas distintas. Talvez a música de Bach, tantas vezes olhada como um manifesto da derivação de um elemento mínimo para um todo com ele coerente, não seja isso, mas, pelo contrário, a junção do diverso. Basta pensar nos prelúdios e nas fugas do Cravo bem temperado, e novamente no todo mais vasto que consiste na sua integração num projecto maior que é o de ousar profanar – ousar tocar – o todo religioso. Poderíamos ver a sua obra e o conjunto das suas paixões como a expressão desta atitude.
Para mim Bach é o encontro – o encontro da Itália e da Alemanha, de Vivaldi e de Buxtehude. Acho que, no decorrer da história, deve-se dar mais importância a estes momentos, do que aos momentos de ruptura. Gostaria de ver a minha música neste sentido.
Como desenvolve o seu processo composicional? Parte de uma ideia-embrião, ou depois de ter mentalizado a forma global?
JM: Acho que não é necessariamente uma ideia, mas sim uma consciência política. A necessidade de compor nasce da relação que sinto com o que me rodeia – e isto pode ser qualquer coisa, seja poesia, seja uma imagem, ou um conjunto de notas, em que posso interpretar as relações entre elas.
Deste ponto de partida desenvolvo a forma, procurando a relação com algo distinto, porque para mim a ideia constitui quase sempre a junção do que é aparentemente diverso.
O uso de um texto na música é para si importante?
JM: Muito importante. Acho que o texto é um testemunho que define quem somos. Na minha música uso sempre textos dos outros. Vivo rodeado de pessoas que escrevem muito bem, que são óptimos escritores. A meu ver os músicos devem criar mais relação com a literatura, e por consequência, com a política, ou seja, com as coisas que não são de música. Acho que é muito importante que não se tenha uma visão académica da música, mas sim política.
A sua tese de doutoramento reforçou esta ideia – da ligação entre a música e a política?
JM: Sim, reforçou. Na tese, a partir do caso de Berio e mais especificamente a sua ópera La vera storia (com libreto de Italo Calvino) falei sobre a música e a sua relação com a filosofia, a história, a política, e a ética.
Como então entende a política?
JM: A política, no meu entender, diz respeito à ética – é o homem na sociedade, o homem no mundo, na sua relação com o outro. Isto acho que é a essência da política.
Como exprime estas ideias musicalmente?
JM: Tento utilizar e fazer encontrar várias referências, num exercício de plena liberdade como compositor no mundo. É como no texto de Paul Valéry, A conquista de ubiquidade – tudo pode ser visto a partir de vários ângulos e de várias perspectivas. Perdemos a hierarquia, mas recuperámos a liberdade que vemos em inúmeros artistas e compositores desde sempre. Antes de Bach há muitas coisas – há Pergolesi e a Itália toda... e antes há Perotin, e antes dele, Boécio... Acho que a herança de uma liberdade de expressão se perdeu em parte no modo como a música se quis academizar no século XX, fechando-se ao mundo.
Para mim, uma personificação do que está a dizer é a música de Gesualdo, por exemplo. A obra dele é uma espécie de síntese, não falando da relação da música com o texto, que ele desenvolveu...
JM: Ele passou a perceber que o próprio texto tem uma música, e que, por sua vez, a música também tem o seu próprio sentido. Ela pode não estar acompanhada por palavras, mas tem sempre um sentido escondido. E este sentido é certamente mais pessoal.
O que acha sobre a situação actual da música portuguesa?
JM: Eu acho que há neste momento vários aspectos positivos, entre os quais o MIC.PT, que é um exemplo de excelência. Todavia, há ainda muito por fazer para superar as várias dificuldades que existem. Por exemplo, não se corre muito o repertório português. Depois de uma ou duas execuções públicas, ele fica arrumado a um canto, à espera de novas oportunidades. E isso é uma pena. Porque não se fazem mais concertos com a música portuguesa? Acho também que deve haver mais música, inclusive a música contemporânea, na escola. De uma forma geral as pessoas devem ter muito mais acesso à música – isto é fundamental.
E este acesso senti no leste da Europa, onde há uma consciência muito forte da importância da música no processo civilizacional. Estamos, de novo, na questão, a meu ver política, do descentramento dos processos: a Europa para fora de si, alguns centros de poder que nos habituámos a consagrar também para fora deles próprios, etc… Nós vivemos cá muito dominados pela Alemanha e por França, por exemplo. E devemos abrir-nos mais para o leste da Europa e... para a África, onde vive muito mais do que um bilião de pessoas... Apesar da nossa história e das ligações fortes a África, sabemos muito pouco sobre este continente. E isto também é política.
Consegue identificar alguns aspectos transversais na música portuguesa?
JM: Um é o seu existir periférico e as vantagens que este nós dá. Outro é a poesia, tal como na obra de Jorge Peixinho e de Constança Capdeville. O facto de vivermos na periferia da Europa pode dar-nos mais liberdade criativa e mais perspectiva. Cá às vezes respira-se melhor do que em outras partes do mundo.
Quais são os seus projectos correntes e futuros?
JM: Hoje em dia há infelizmente menos actividade do que antigamente, mas tenho alguns projectos em curso. Neste momento estou a trabalhar numa peça para um coro de oito e também num quarteto de cordas.
Além disso, espero defender a minha tese de doutoramento ainda esta Primavera, e gostaria de editar um disco monográfico com a minha música para piano solo e para piano e voz.
João Madureira, Outubro de 2016
Realização, edição e transcrição da entrevista: Jakub Szczypa
© MIC.PT