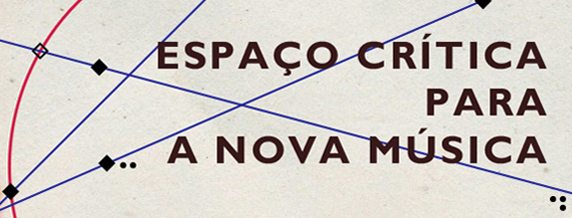Questionário / Entrevista
Parte I · raízes e educação
Como começou para si a música e onde identifica as suas raízes musicais?
João Quinteiro: São diferentes, o começo e as raízes. As primeiras memórias que tenho de alguma forma de música me mover remontam talvez aos meus 4, 5 anos de idade, em casa dos meus avós em Viseu. Pedia, incessantemente, para ouvir as Quatro Estações do Vivaldi e passava tardes com os meus primos a ouvir e a dançar o Rock Around the Clock do Billy Holliday! O meu pai é, desde sempre, um ávido consumidor de rock progressivo, cresci com os primeiros álbuns dos Genesis, especialmente o Selling England by the pound, com Jethro Tull, Yes, Deep Purple, Pink Floyd e Uriah Heep.
Aos seis anos os meus pais ofereceram-me uma guitarra e aulas de música. Apesar de fazer parte do cânone tirar as músicas da moda de ouvido, sempre tive muito mais prazer a inventar as minhas próprias progressões e a ornamentá-las. Isto terá sido o começo.
Quanto às raízes, é mais difícil, ainda não pararam de crescer e faço por reforçá-las e questioná-las com frequência. Espero ainda ter as raízes em crescimento durante muito tempo.
Vou assumir que a pergunta se prende à delimitação de um ponto nuclear no rizoma do meu percurso. Comecei a estudar música, formalmente, no Conservatório de Viseu, já bastante tarde, com 16 anos. Lembro-me que a primeira vez que escutei música contemporânea (desculpem-me a inexactidão do termo) foi mais ou menos por essa altura, na classe de Composição Livre do José Carlos Sousa. Deu-me a ouvir o Le Marteau sans maître do Boulez. Lembro-me de fazer o caminho do conservatório para casa da minha avó quase com vontade de chorar, a pensar com o que se tinha feito ao meu Mahler, ao meu Brahms, ao meu Debussy. Acho que se não tivesse levado o Ligeti para ouvir em casa, as aulas de Composição Livre teriam ficado por alí! Hoje o Marteau e o Dialogue de l’ombre double estão na minha muito, muito curta lista de música que transporto no bolso comigo, para as horas de aperto.
Que caminhos o levaram à composição?
JQ: Os caminhos que me levaram à composição começam com uma desilusão e estado de frustração muito profundos. Fui um adolescente complicado. Os conteúdos pobremente generalistas e a lentidão do ensino aborreciam-me muito e acabava por faltar imenso às aulas, muitas vezes para ficar a ler ou a ouvir música na biblioteca. Nem sempre, mas muitas vezes! Contudo, sempre tive boas notas. Acho que isto ainda fazia com que a coisa fosse mais frustrante. Escrevi, li, escutei música e toquei música durante a adolescência inteira, quase diariamente, mas não fazia ideia do que queria fazer. Um dia, a meio de uma tarde de escola, liguei ao meu pai, pedi-lhe que viesse ter comigo e disse-lhe que ía ser músico, que ía sair de casa deles e estudar para o Conservatório de Viseu (os meus pais moram no Barreiro). Assim foi. Devo-lhes tudo.
Quando entrei para o Conservatório o objectivo era seguir guitarra clássica. Contudo continuava a “criar” música para mim e a escrever (texto). No meu segundo ano em Viseu comecei a fazer os ATCs, lembro-me de ter um pavor e um deslumbramento incrível ao contraponto. Algures pelo meio desse ano o José Carlos abriu a disciplina de Composição Livre. Foi, como disse, onde tive o meu primeiro contacto com música de tradição, composta no século XX, na altura muito focada nos compositores de Darmstadt, muito Boulez, muito Stockhausen, Ligeti, Berio, Cage, …
Isto associado à realização dos primeiros exercícios de composição, ainda recorrendo a técnicas simples, como explorações de técnicas seriais ou de trabalho com filtragem de alturas.
A verdade é que com isto, a composição como acto criativo ganhou uma legitimação interna que se impôs a tudo o resto, enquanto resposta às minhas necessidades pessoais. Digo legitimação não pela tipologia estética da composição, como já disse, a vontade e a pressão interna para criar estavam presentes de várias formas desde cedo. Foi a tomada de consciência do filão, de que poderia compôr durante muito tempo, sem que isso se tornasse aborrecido ou fosse apenas uma forma de output íntimo.
Do conservatório segui para a licenciatura em Composição, em Aveiro, a antiga, ainda via Ensino, onde estudei composição com o João Pedro Oliveira e com a Isabel Soveral, técnicas de composição e contraponto com o Evgueni Zoudilkine e análise com o Virgílio Melo. Todos foram, de formas muito distintas importantes para mim, alguns ainda são.
O contacto com o pensamento e o rigor composicional do Emmanuel Nunes foram determinantes, mais do que esta ou aquela estética, a necessidade de clareza, honestidade e rigor na relação com o métier.
Contudo, o caminho que me trouxe à composição ainda se está a fazer. Parece-me importante que o caminho que nos traz a qualquer lado, não deixe de ser o mesmo que nos continua a levar a qualquer lado, mesmo porque como o Nono apontava “não há caminhos, há que caminhar”!
Que momentos da sua educação musical se revelam, hoje em dia, de maior importância para si?
JQ: Esta é uma pergunta complicada. Já a comecei a escrever umas três vezes e dou por mim a voltar atrás. O problema é que é fácil converter “momentos” em “pessoas”, é fácil cair numa narrativa descritiva de relações, mas momentos, especialmente os momentos-chave, são outra coisa. Imagino, igualmente, que seja difícil para qualquer pessoa identificar esses momentos, mas acho que especialmente para um músico, parece-me difícil balizar o que significa “educação musical”, porque muitos dos momentos-chave, estou em crer, estarão fora da educação formal.
Para mim os momentos mais marcantes terão sido as provas de fogo. Dar por mim em frente à Orquestra Gulbenkian para os ensaios da minha primeira obra para orquestra e sentir, ao mesmo tempo, a indignação de alguns músicos por terem de fazer coisas tão estranhas e a disponibilidade e interesse de outros por … terem de fazer coisas tão estranhas!
Outro momento, ou conjunto de vários momentos, fundamentais para mim, foi cada vez que me sentei com uma partitura ao lado do Emmanuel. Não creio ter tido provas de fogo muito mais intensas que essas. Prepararam-me para saber o quão importante é um certo estado de consciência e de sensibilidade em relação ao nosso próprio trabalho. Obrigou-me, numa fase muito inicial da minha relação com a composição, a compreender como fundamental a responsabilidade implicada no acto de criar, enquanto partilha com e para o outro.
Parte II · influências e estética
Existem fontes extra-musicas que, de uma maneira significante influenciem o seu trabalho?
JQ: Sim, apesar de o termo “fontes” me parecer implicar um compromisso que não sei se estou disposto a aceitar. Isto é, se já realizei obras que se relacionam com objectos que não são música por definição? Sim, por exemplo, trabalho desde 2014, bem, na verdade, bastante antes de 2014, mas assuma-se 2014, num conjunto de obras para piano preparado e instrumento solista, que se relacionam com poemas do Luís Miguel Nava. Se tomo os textos como fonte, parece-me um pressuposto perigoso, isso acho que não. O que acontece é a identificação da minha parte de ressonâncias profundas em vozes ou em objectos que não foram criados por mim, mas que de alguma forma me são íntimos, que é como se me pertencessem. E dessa sensação de profunda intimidade decorrem obras que partem de mim. Acontece o mesmo com os textos que estou há quatro anos a trabalhar para o meu primeiro projecto de ópera. São textos do José Mário Silva, maravilhosos, que andam comigo sempre, para trás e para a frente há quase 20 anos. São textos que são parte de mim, não posso dizer que sejam fontes, porque as obras não os tomam como pontos de partida, mas como objectos ressonantes. Passa-se o mesmo com o conjunto de obras sobre os sabbaths pagãos que iniciei em 2009 e com a Khatib’s Heart, que ainda se encontra por estrear a versão final. Nesta obra tomei um recorte de jornal sobre um menino palestiniano de 7 anos que havia sido assassinado num raid israelita. Os pais deste menino, Khatib, doaram para transplante o coração do filho a uma menina de oito anos Israelita. Lembro-me que andei meses com esta imagem de um coração móvel, maior que tudo o que possa ser descrito, discutido ou questionado a povoar-me as ideias. Um coração fundamental. Uso nesta obra citações de canções de embalar palestinianas e israelitas, somadas a uma outra citação dos Tenebrae Responsories de Gesualdo.
Novamente, estes materiais não são pontos de partida ou de chegada. São objectos que ressoam em mim.
No contexto da música de arte ocidental, sente proximidade com alguma escola ou estética do passado ou da actualidade?
JQ: Admito que o termo “música de arte ocidental” me desagrada sobremaneira (não estou a dizer que há melhores alternativas!), mas talvez por isso não resisto a responder-lhe a esta pergunta, deixando a seguinte salvaguarda: não considero que a “art music” tenha qualquer forma ou tipo de baliza estética. Parece-me que o termo / conceito, serve hoje um propósito mais capitalista e de legitimação de má música que qualquer outra coisa. Pode ser legítimo fazer má música, não é legitimo querer ilibar má música através de conceitos ou balizas argumentativas. Isto é, o termo é hoje utilizado apenas porque a música como entretenimento se tornou num objecto selvaticamente capitalista, na sua maioria, de uma pobreza e propositada descartabilidade atroz. Pergunto-me se se perguntaria a um Machaut, a um Josquin, a um Monteverdi, a um Bach ou a um Mozart (propositadamente deixo o Beethoven de fora!), até mesmo a um Schumann ou a um Liszt se criavam “art music”!! Se sequer seria possível explicar-lhes o conceito e sim, eu sei que estou a assumir que na pergunta, o pressuposto é que a tradição ocidental seja a destes compositores. Contudo, parece-me que o problema da “art music” é que legitima uma série de “compositores” que, por terem literacia musical e escreverem música com instrumentação da tradição ocidental, de certa forma estão automaticamente legitimados, independentemente do conteúdo das suas obras ser, em essência, muito mais pobre e condicionado por uma rentabilidade imediata do que criadores que não se enquadram, facilmente, neste chavão da “art music”, mas que são muito mais sérios na defesa dessa coisa que é a arte e as suas missões.
O Lachenmann dizia, em relação ao belo e à beleza que é preciso trazê-la para um “lugar de insegurança”. Direi o mesmo em relação à arte, ao processo, ao próprio métier. É necessário distinguir, de uma vez por todas, o posicionamento que usa recursos facilitistas e de matérias primas sonoras datadas e de imediata auto-congratulação não desafiadora do público, como estratégia que submete a criação ao utilitarismo de capitalizar rapidamente, de uma Arte que resiste, que não se submete, e que por isso reconhece a sua função de contribuir para que o espírito humano não caía na cegueira masturbatória da inquestionabilidade e da ausência de pensamento.
Isto, para mim, não se prende a correntes, e a tradição não é um objecto cristalizado mas uma perspectiva, um estado, uma forma de estar em relação com …
Isto para dizer, até à industrialização selvagem a que o século XX submeteu a música, essa distância entre o que é do métier do compositor “erudito” e o que é do métier do compositor “ligeiro” (termos ridículos e absurdamente datados, que mais não seja porque a erudição está hoje à disposição das massas e não é condicionante do produto final. Nem sei por onde começar a pegar no termo “ligeiro”, colonialisses …) assume valores muito distintos.
O que se comprometeu, em suma, foi o processo de escuta. Conheço muito pouca gente que de facto escute música para, através do recurso a um objecto estritamente sonoro, de alguma forma se expandir. Não. A música propriamente dita tornou-se essa coisa altamente especializada e que “ninguém percebe”. Percebe-se um texto (uma letra), percebe-se uma coreografia (especialmente se apelar a alguma forma de sensualidade ou de satisfação de fantasias capitalistas), mas não se percebe música, porque é preciso escutá-la. Ora a música hoje serve todo o propósito menos esse, o da escuta.
É preciso trazer a música de volta à sua própria ontologia, antes mais porque, caso contrário, sim, “art music” será simplesmente mais uma moda de nicho, que terá, no que toca a uma verdadeira legitimação, não outros critérios que ser “esquisita”, logo, fora do domínio da plebe.
Posto isto, interessa-me particularmente a linha de compositores que sucede, ainda hoje, a Darmstadt, com um tipo de pensamento que reconhece o serialismo na suas várias frentes e experiências como ponto de partida inicial para a rotura com a necessidade de uma plataforma comum. Que descobriu nesse momento de libertação / constrição, o potencial de a cada obra fazer valer, geneticamente, qualquer possibilidade de coerência formal, pelo questionamento incessante do que a obra pretende ser.
O que entende por “vanguarda” e o que, na sua opinião, hoje em dia pode ser considerado como vanguardista?
JQ: Em boa verdade, não me compete entender nada sobre o termo “vanguarda”, parece-me claro o significado da palavra. O termo implica, duplamente, frente ou parte extrema na relação com uma combatividade defensiva, logo, o que entendo por vanguarda é isso mesmo, uma frente limítrofe, onde alguma forma de combatividade está acesa.
Mais uma estranha relação, esta que o século XX estabeleceu com o conceito de “novo”, entenda-se experimental. Não importa especialmente delimitar o que será “vanguarda”, mesmo porque seria, parece-me, paradoxal não (?), se fosse possível fixá-la, não seria isso, por si só, sintoma de que já não seria vanguarda? Como dizia o Agamben, ao citar o poema do Mandelstam é preciso “partir as vértebras de dois séculos” à besta do tempo e soldá-las uma à outra para ter uma visão que ao mesmo tempo seja agora e depois.
Vou aproveitar, contudo, esta questão para reportar a uma estranha relação que os “compositores eruditos”, especialmente os mais cristalizados em práticas datadas, têm com o termo. O termo “vanguarda” ganhou, talvez por oposição a uma “música ligeira” complacente, um certo cunho de legitimação criativa, ao longo do século XX. Para além disto, que mais não seja nas décadas centrais do século XX, a experimentação radical (fosse de natureza mais racional ou mais abstracta) foi de facto o fio condutor entre algumas das mentes mais consensualmente interessantes na criação musical. Agora, para o compositor que decide virar as costas a isto e compor como se estivéssemos em 1902, há um risco, o da perda de legitimação. Não imagino que alguém que crie hoje, de forma neo-romântica, o faça propriamente por estar disponível a correr riscos! Isto gera um comportamento peculiar, que é um de dois: ou o de uma distância extraordinária entre o discurso (rentavelmente vanguardista) e a escrita musical (cristalizadamente neo-romântica) ou então, mais peculiar ainda, a injecção no próprio discurso musical de apontamentos sonoros (chamemos-lhes decorações) do que os seus autores pensam ser “vanguarda” (como dito anteriormente “estranho”). Isto produz, regra geral, resultados pobremente hilariantes!!
Não incluo, nesta dupla possibilidade uma terceira, que já me foi dita, e que coloco aqui apenas a título anedótico, apesar de me ter sido dita por alguém bastante sério e de forma bastante séria: “os novos compositores neo-tonais são a verdadeira vanguarda que supera o trauma da geração de Darmstadt”. Hilariante!!
Para concluir, “vanguarda” será a colocação propositada e formalmente séria, assumida (não comodamente decorativa) do próprio compositor em tensão e desequilíbrio, na relação com os seus materiais, que confrontam necessariamente um contexto histórico. Se isso passa por mais ou menos tecnologia, ruído, microtonalidade, nova complexidade ou simplicidade, parece-me irrelevante, desde que não sirva o propósito que aqueles sprays de brilho têm em relação às maçãs. Wagner fê-lo com 4 notas, Debussy com sete, Schoenberg com doze. Stockhausen fê-lo com a forma e Nono com a ideologia. Não importa que forma ou feitio assume a vanguarda, mas choca-me sempre que alguém precise de se fazer passar por um herói de guerra, mesmo porque isso só significa que se fugiu por cobardia e não por ideologia. Respeitarei sempre toda e qualquer posição individual tomada no exercício da consciência pessoal. Acho risível, para não dizer consequencialmente perigoso, o exercício de farsas no que toca à vanguarda, principalmente pelo impacto geracional que isso tem.
Parte III · linguagem e prática musical
Caracterize a sua linguagem musical sob a perspectiva das técnicas / estéticas desenvolvidas na criação musical nos séculos XX e XXI, por um lado, e por outro, e por outro, tendo em conta a sua experiência pessoal e o seu percurso desde o início até agora.
JQ: Parece-me, simultaneamente, fundamental começar por dizer que a resposta a esta questão, no que diz respeito à minha obra até aqui, tem de ser balizada entre a autonomia de materiais de obra para obra, sendo que cada obra pede materiais próprios, que lhe dizem respeito só a si e, por outro lado, uma teia estreita de relações de materiais subterrâneos que criam um tecido mais amplo entre obras. Algumas destas relações dão-se por familiaridade directa (como já referi, muitas das minhas obras estão pensadas em conjuntos ou ciclos) ou por ressonâncias tipológicas, isto é, obras que, apesar de pertencerem a grupos distintos, de alguma forma apontam para um mesmo lugar. Vou concretizar, mesmo porque me preocupa muito que uma certa abstracção do discurso composicional não seja mais do que um subterfúgio para uma certa “erudição comercial”.
Obras como o conjunto Eros (2017), Thánatos (2015), Energeia (2010-14), [Dynamis e Trieb] tomam a constituição de núcleos acústicos / sonoros, em que cada núcleo é composto tendo em conta uma imperatividade sonora que simultaneamente é carregada por elementos autonomizantes e elementos que prevêem tipologias distintas de relações com os restantes núcleos acústicos implicados em cada obra. A forma como os núcleos são articulados e desenvolvidos em cada obra prende-se, depois, ao carácter específico do que cada obra precisa de ser, isto é, na Energeia, cada núcleo tipológico é trabalhado num processo de “modulação” espacial e funcional contínuo, em que cada agente se “impõe” aos restantes, num processo que força à submissão continuada e à emergência combativa da relação entre núcleo acústico e grupos sonoros.
No caso das obras que ressoam os textos do Nava, existem direi, dois eixos tipológicos no pensamento e tratamento dos materiais. Estes eixos serão, em primeiro lugar, aspectos transversais à poética do Nava que ocupam, largo espectro, um espaço determinante em mim: o corpo e a sua multiplicidade de afectos, tempestades, contemplações, violências e contradições (sublinho, o corpo) e em segundo, a particularidade do conteúdo de cada texto escolhido e o quê desse texto particular ressoa em mim. Concretizando, em dois rios a ideia de simultaneidade reversa, a particularidade dos limites do corpo como território charneira, onde as fronteiras (acústicas, performáticas, instrumentais, idiomáticas) se diluem na navegação de um mesmo “barco” que é singularmente duplo.
No caso das obras satélite da ópera, a relação com os textos do José Mário é distinta destas. Aqui, cada obra estabelece uma relação com os textos mais directa, porque cada texto constitui, na relação entre obra solista e ópera, uma meta-camada, como se a ópera resultasse de um somatório infinito (entrópico) de almas que habitam os textos do José Mário. O libreto da ópera está a ser construído como adaptação dos textos originais, contudo foi fundamental para mim que os textos (ou um substracto dos textos originais) estivessem de alguma forma integralmente presentes.
Indo à pergunta, não é uma questão, para mim, focar-me na aplicação de uma técnica composicional específica. Cada obra, face ao que a obra precisa de ser, quer pela pressão sonora que exerce em mim, quer pela dimensão estrutural e o lugar que ocupa na relação com outras obras, pede técnicas específicas, sejam elas estritamente de exploração do universo sonoro e técnico do instrumento, sejam de carácter espectral, ou até de posicionamento em relação a materiais com cargas históricas específicas, leia-se, oposição a idiomatismos baratos. É-me fundamental sim, criar música que ofereça resistência e gere a possibilidade de deslocação de um lugar cristalizadamente idiomático, para um universo da prática e da percepção sonora mais amplo.
Olhando para o meu percurso desde o início até agora, direi o seguinte: assentei em papel as primeiras notas no ano 2001. Durante os treze anos que se seguiram escrevi talvez umas vinte a vinte e cinco obras, das quais em 2014, ano em que me apercebi que chegara ao fim uma certa fase que considerei de aprendizagem, decidi que iria rever / reescrever três obras. As restantes, mesmo as já estreadas, ficariam na intimidade desse processo de aprendizagem. Desde 2014 escrevi catorze obras, onde utilizo diversos tipos de técnica de escrita e diversos tipos de recursos e aparatos composicionais. Ao nível estético, o que lhes encontro em comum, pelo menos nas minhas intenções, é a necessidade de desafiar. Desafiar-me a mim, desafiar o ou os intérpretes que pretendam abraçar as minhas obras, desafiar a escuta de quem tirar o tempo para as escutar a uma evasão a lugares comuns e a expectativas fáceis ou a complacências hedonistas.
No que diz respeito à sua prática criativa, desenvolve a sua música a partir de uma ideia-embrião ou depois de ter elaborado uma forma global? Por outras palavras, parte da micro para a macro-forma ou vice versa? Como decorre este processo?
JQ: Serei breve. Componho pela inevitabilidade de o fazer, pela presença súbita de objectos que são som e que exercem uma pressão tremenda e ocupam um espaço enorme da minha disponibilidade mental. A forma como cada uma dessas pressões surge é distinta. Nalguns casos, uma massa sonora condensada, que já contém forma, mas que precisa de “descompressão”. Noutros casos, apenas sons, tipologias, timbres, espectros e relações entre corpos. Noutros, agentes sonoros que entram, temporalmente, em relação.
O processo de elaboração dos esquissos, prévio à escrita de cada obra, apazigua essa pressão pela compreensão do detalhe e do pormenor funcional que coloca essa pressão numa sequência mais ou menos organizada no tempo. Se parto da forma ou do conteúdo? Parto do que a obra precisa para ser o que for através de mim, seja isso o que for.
Como na sua prática musical determina a relação entre o raciocínio e os “impulsos criativos” ou a “inspiração”?
JQ: Não percebo porque é que impulsos criativos e inspiração estão entre aspas e raciocínio não.
Contudo, esta resposta é igualmente breve e divide-se em dois pontos:
1.º, questiono se fará sentido categorizar (na prática) o processo pela tensão entre estes dois polos, isto é, se não se sobrepõem continuamente, fundem e diluem num raciocínio criativo ou numa criatividade racionalizada;
2.º, com muito, muito cuidado!!
Que relação tem com as novas tecnologias, e em caso afirmativo, como elas influenciam a sua música?
JQ: Vou assumir que, em contexto, as novas tecnologias se prendem a objectos ligados a uma tomada de electricidade.
Novamente, cada obra precisa de ser o que precisa de ser. A mim, composicionalmente, interessam-me pouco, para não dizer que não me interessam de todo, objectos com função estritamente decorativa. Neste sentido, as obras em que uso meios tecnológicos, até ao momento, devem-se a uma relação que certos materiais têm com o espaço. Esta utilização da tecnologia para a colocação de certos materiais em relação móvel com o espaço acontece, enquanto função estrutural e tipológica no contexto sonoro, numa ordem tão essencial quanto a tipologia acústica do som utilizado.
É contudo importante sublinhar que, para mim, qualquer elemento tecnológico precisa sempre de ser tactilmente performado, isto é, não me interessa de todo uma relação de “press and play” com a tecnologia.
Qual a importância do espaço e do timbre na sua música?
JQ: São agentes estruturalmente nucleares recorrentes.
O experimentalismo desempenha um papel significante na sua música?
JQ: A experimentação faz parte do meu processo obrigatório no chegar a cada obra. Não trabalho com materiais pré-preparados, logo, chegar a compreender o que a obra precisa de ser, os “o quês, como e porquês” que constituem a paleta sonora que cada obra exige, implica sempre um processo longo de experimentação quer pessoal, quer com os intérpretes, quer com quaisquer outros meios.
Em que medida a composição e a performance constituem para si actividades complementares?
JQ: Assumirei que, em contexto, se entende por performance qualquer coisa que não a interpretação musical, mas admito que a custo, uma vez que me é fundamental na experiência do objecto sonoro uma certa forma de motricidade performativa que qualquer obra implica.
Assumirei portanto que, aqui, “performance” reporta a qualquer acção corpórea que não se encontre sonoramente organizada ou que não tenha a organização do som resultante como critério estrutural.
No projecto de ópera que estou a escrever há já quatro anos, existem dez obras satélite, das quais cinco são obras para instrumento solista com elemento performativo e espacialização performada. Em suma, escrevo estas obras como trios, onde cada intérprete se enquadra numa categoria performativa distinta, por exemplo Hermes, nove da noite (2017), para saxofone tenor espacializado e vídeo live, obra em que tenho trabalhado em colaboração com a realizadora Sinem Taş, ou a Eurídice, sete da manhã (2016), para percussão especializada e bailarina.
Cada uma destas obras é a teia de relações estabelecidas entre os três agentes que as integram e da sua simultaneidade e consequente agenciamento temporal. Não há uma submissão de um ao outro, mas um contraponto entre agentes performativos.
Parte IV · a música portuguesa
Tente avaliar a situação actual da música portuguesa.
JQ: Apetece-me responder 42!
A música Portuguesa actual é um quadro muito abrangente e diversificado. Isto poderia ser o início da resposta perfeita, não fosse o que se segue, que é observar os profundos desequilíbrios que pautam o estado de coisas actual.
Ocupo há dois anos, oficialmente, lugar na Direcção da APC – Associação Portuguesa de Compositores. Antes destes dois anos andámos talvez uns três anos só a observar e a analisar o contexto que pretendíamos integrar, de forma a que fosse possível trazer para cima da mesa qualquer coisa que verdadeiramente valesse a pena para a comunidade de compositores portugueses e a ponderar como conseguí-lo, sem cair no compromisso da missão a que nos propomos – oferecer algum equilíbrio profissional e dignidade institucional à classe. Tornou-se rapidamente claro que não seria fácil. Novamente, a música portuguesa é um contexto demasiado abrangente, por isso vou delimitar a resposta à parte pela qual tento lutar presentemente, isto é, o estado da música para quem cria música em Portugal hoje. Mesmo esta questão é bastante abrangente e exige diversas particularizações. Vou-me focar em duas frentes: os direitos de quem cria e a preparação de quem pretende criar.
Em relação à primeira direi que estamos incrivelmente desprotegidos e, por consequência de uma exposição prolongada a esta desprotecção, somos, como classe, defensivos e desconfiados.
Os criadores de música em Portugal têm, na melhor das hipóteses, uma estrutura que assegura a colecta dos seus direitos de autor. Contudo, a vida de um compositor não é só essa ponta final da maior ou menor lucratividade das suas obras. Há, em território nacional, uma enorme fragilidade na relação entre os criadores de música e as entidades contratantes ou que encomendam música. Por um lado, não existe qualquer regulação de mercado, isto é, os valores praticados das duas uma, ou são “importados” (na melhor das hipóteses), ou ficam ao critério do bom senso das entidades que, regra geral, corre mal. Ou se cai num processo rotundo de um leque muito curto de nomes, ou o compositor tem de agradecer pela extraordinária oportunidade de trabalhar de graça. Não me refiro, evidentemente, às causas que se abraçam ou às relações pessoais que nos movem no sentido de criar, independentemente da sustentabilidade financeira da coisa. Todos temos o direito a projectos pessoais e a causas do coração, só não me parece adequado que uma entidade contratante do trabalho de um profissional se valha disso para alimentar o estatuto de “entidade que encomenda”.
São raros os compositores, e não só em Portugal mas por todo o mundo, que conseguem viver exclusivamente de compor. Até aqui, tudo bem, com mais ou menos sucesso, mesmo porque isso também varia de corrente para corrente, o que importa é que haja alguma dignidade nos valores praticados. Entenda-se que dignidade significa uma justa adequação dos valores praticados ao objecto produzido.
Na Finlândia, a associação congénere da APC, com quem estivemos em contacto recente, utiliza, em defesa dos seus associados, uma tabela de valores referencial que tem como critério a complexidade das obras. Não me parece absurdo. Independentemente da corrente, o tipo que demora três ou quatro meses a produzir o seu objecto não pode ser remunerado na ordem do que produz dois ou três por dia.
O estado da música em Portugal, no que toca à vida laboral dos compositores, tem ainda muito por fazer.
No que toca ao segundo ponto que referi, o da formação de quem cria, parece-me haver (e não só em relação à música, mas transversal a diversas áreas) uma distância enorme entre o ensino superior em Portugal e a vida profissional disponível. Há já uns dez ou quinze anos que existem, em média, uns 25 a 30 compositores por ano no ensino superior de composição em Portugal. Repare-se que nem sequer vou entrar nos números dos diversos outros cursos superiores de música, deixo a quem de direito essa preocupação, mas serão na ordem das oito a dez vezes superiores aos da composição. Existiu e existe um esforço e um investimento continuado na formação destes jovens (nos quais me incluo). O ensino articulado nos conservatórios e o ensino profissional de música tem tido um crescimento exponencial na última década em Portugal, formando cada vez mais e melhores músicos. Pergunto, onde está o mercado de trabalho, ou melhor, o investimento em criar um mercado de trabalho para estes jovens? Onde estão as orquestras e as formações de câmara profissionais, decentemente financiadas ou públicas, para dar vazão a este investimento? Mas este não é um problema só dos músicos em Portugal, como professor e como investigador, sei bem disso noutras frentes. Em Portugal investe-se a formar e especializar para o desemprego ou para a imigração. Parece-me que neste momento, se reúnem as condições para que este potencial em que tanto se tem investido se começasse a colher.
O que, em seu entender, distingue a música portuguesa no panorama internacional?
JQ: Por coincidência dou por mim a responder a esta questão enquanto estou sentado, no intervalo de um painel Europeu de associações que lutam pelos direitos dos compositores. Parece-me que a melhor forma de começar a responder a esta questão não irá além de, literalmente, observar a sala que me rodeia neste preciso instante.
É importante esclarecer que:
1 – estou sentado numa sala onde estão sentados comigo representantes de todos os países da Europa e, de cada país, de vários quadrantes estéticos e correntes de criação musical;
2 – A APC existe há um ano e pouco no seu formato actual. Estamos aqui com colegas que representam associações que lutam pelos direitos dos compositores de cujo arranque data do pós 2.ª Guerra. Este convénio de associações existe há treze anos e nós somos a primeira entidade Portuguesa a ser convidada a sentar-se aqui. Não quero ser mal interpretado. Este segundo ponto é, para mim, objecto de lamento e preocupação e responde, por si só, a uma parte considerável da questão colocada.
Uma das coisas que nos distingue, tal como disse na questão anterior, é que, maioritariamente, nos limitamos a exportar uma parte considerável dos nossos melhores músicos. No último ano vivi em Itália, enquanto trabalhei na Fundação Luigi Nono – um local de extraordinária generosidade e onde habita uma defesa da ética da criação absolutamente incrível – e na Áustria, enquanto trabalhei com o compositor Beat Furrer, país que na sua grande diversidade tem uma consideração incrível pela produção de cultura. São contextos radicalmente distintos entre si e cada um, do nosso. A parte que importa a esta questão é que, para além do grande prazer de trabalhar com músicos extraordinários de todo o mundo, tive a oportunidade de conhecer alguns dos nossos melhores músicos que, ou residem fora, ou estão maioritariamente em trânsito, fora de Portugal. Não sendo este o único aspecto distintivo, parece-me caracterizar o que nos distingue de um certo panorama internacional que trata a sua música, para não dizer a sua produção de cultura, condignamente.
Parte V · presente e futuro
Como define o papel de compositor hoje em dia?
JQ: O papel do compositor começa pela relação entre a sua consciência/necessidades criativas pessoais e a sua consciência e necessidades criativas na relação que estabelece ou pretende estabelecer com o mundo, com o outro. Como disse acima, defenderei sempre qualquer criador que faça o esforço por agir de forma clara e honesta com a sua consciência de si e do outro, que reconheça a sua posição, seja ela qual for. Não existe apenas uma função da música, e por isso não existe “o compositor”. Cada quadrante da criação musical desempenha funções que respondem a necessidades humanas, sendo que entre todas, me parece que o potencial para acender a mente humana e não anestesiá-la ou encobri-la deveria ser comum. Parece-me um falso pretensiosismo, para não dizer um egoísmo pobremente elitista, achar que há uma função definida do que é o compositor que estará reservada a um leque de “escolhidos” pelos deuses. O posicionamento de cada um, face aos seus objectos, deveria ser sério e levado a cabo, independentemente da maior ou menor seriedade da relação que o público estabelece com a sua obra, de forma séria e consciente de que o que enviamos para o mundo, impacta-o.
Quais são os seus projectos decorrentes e futuros?
JQ: Estou, presentemente, a trabalhar na composição de um projecto de ópera que abarca a criação, para além da ópera propriamente dita, de diversas obras que lhe são satélite.
Para além deste projecto, que é pessoal, tenho algumas obras que irei escrever por pedido e por encomenda ao longo do próximo ano.
Poderia destacar um dos seus projectos mais recentes, apresentar o contexto da sua criação e também as particularidades da linguagem e das técnicas usadas?
JQ: Posso falar um pouco sobre a obra em que me encontro, presentemente a trabalhar. É uma das obras satélite do projecto de ópera, Sísifo, cinco da tarde, para acordeão espacializado e narrador.
Esta é, das dez obras que constituem satélites da ópera, a única onde o objecto linguagem é utilizado como matéria sonora explícita. O acordeonista está sentado ao centro, com a plateia em torno, a 360º. Em torno da plateia estão quatro canais que espacializam os materiais tanto do acordeonista, como do narrador, que por sua vez se move, continuamente, pelo interior do círculo criado pela plateia. Como em todas as obras deste conjunto, uso o texto homólogo do José Mário, respeitando a sua integridade total. O espaço e, consequentemente, a natureza acústica que os diversos materiais assumem nesse espaço é um elemento fundamental nesta obra, particularmente porque, ao contrário das restantes [Eurídice, sete da manhã (2016), para percussão espacializada e bailarina; Penélope, meio-dia, para harpa espacializada, actor e acrtiz; Hermes, nove da noite (2017), para saxofone tenor espacializado e vídeo live; Prometeu, meia-noite, para guitarra portuguesa e actor] existem três fontes sonoras que articulam cinco “espaços” distintos, o som do acordeão e vocalizações do acordeonista: som fixo do instrumento, som móvel do instrumento e som móvel da voz do acordeonista nos monitores; o som do narrador: fisicamente móvel e a sua espacialização. A articulação da ocupação do espaço que ocupa cada um destes elementos é pensada na ordem do contraponto, isto é, cada elemento tem materiais próprios, autónomos quer ao nível acústico, quer ao nível da técnica ou leque de técnicas específicas que cada elemento utiliza, mas sempre pensados de forma relacional através de pontos de agenciamento e co-habitação de lugares e paletas acústicas resultantes.
Cada elemento (existem muitos outros para além do elemento espaço) parte de uma tipologia própria, assente em propriedades do corpo sonoro e performativo que age na relação com cada tipo de acção física dos intérpretes. Por sua vez, estas acções articulam com as partes do texto que se relacionam ou que ressoam a cada momento, com o quadro macro-estrutural da ópera, como fio condutor subterrâneo de obra satélite para obra satélite. Em suma, um tecido de multiplicidades móveis (não me refiro apenas ao espaço) que agem e reagem, a cada momento.
João Quinteiro, Novembro / Dezembro de 2019
© MIC.PT