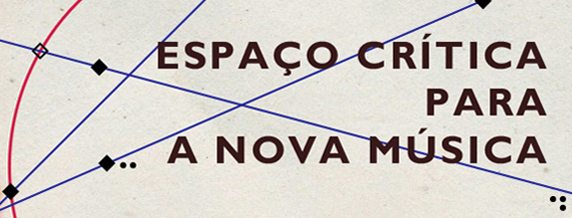Foto: Daniel Moreira · © Alexandre Delmar
Questionário/ Entrevista
Parte I · raízes e educação
· Como começou para si a música e onde identifica as suas raízes musicais? ·
Daniel Moreira: De modo mais informal, começou muito cedo, na medida em que os meus pais sempre ouviram muita música em casa, preferindo até ouvir música a ver televisão. O meu avô paterno era também músico amador – tocava piano e acordeão – e penso que a minha ligação com a música vem também daí. De uma forma mais formal o contacto com a música começou mais tarde. Começou, verdadeiramente, no ciclo preparatório (5.º e 6.º anos), com a disciplina de Educação Musical, que foi fundamental para perceber que aprender música não só não era um bicho de sete cabeças (conforme eu pensava anteriormente!), mas algo que me motivava muito e para o qual eu pareceria ter até alguma facilidade.
· Que caminhos o levaram à composição? ·
DM: Depois dessa experiência de Educação Musical na escola, logo no meu 6.º ano candidatei-me ao Conservatório de Música do Porto e entrei para a classe de flauta de bisel, o instrumento que tinha começado a aprender na escola. Demorei algum tempo, depois disso, a encontrar o meu caminho: primeiro não havia horários compatíveis; depois fui aprender clarinete para a Banda de Avintes, a convite do meu professor de Formação Musical, José Ferreira; e depois desinteressei-me do instrumento e comecei a estudar guitarra. Seria esse instrumento que depois iria prosseguir (até ao 8.º grau, com o professor Artur Caldeira), mas só quando comecei a ter aulas de Análise e Técnicas de Composição, com o professor João-Heitor Rigaud, é que senti verdadeiramente ter encontrado o que mais me interessava. O fascínio pela técnica de composição foi imediato, e a partir daí só foi crescendo! Na verdade, quando terminei o secundário (em 2001) era já claro que eu poderia vir a seguir um curso de composição, mas como ainda não tinha terminado o Conservatório, pareceu-me melhor ir para outro curso. Assim fiz Economia, na Universidade do Porto, enquanto continuava a estudar música. A meio do curso de Economia, comecei a experimentar compor peças mais extensas – não só pequenos exercícios, como até aí – e vi que não havia nada que me entusiasmasse tanto quanto compor. Era claro que, depois de terminar o curso, tinha de experimentar Composição. Tive felizmente todo o apoio dos meus pais e da minha família nessa decisão.
· Que momentos da sua educação musical se revelam, hoje em dia, de maior importância para si? ·
DM: Além dos que já mencionei na resposta anterior, destacaria a minha experiência como aluno de Composição na ESMAE, no Porto, entre 2006 e 2010. Foi um tempo de enorme aprendizagem, em que a cada semana parecia descobrir um mundo novo, com o auxílio mais próximo dos meus professores de composição dessa fase, Dimitris Andrikopoulos e Fernando C. Lapa. E destacaria também a minha experiência, mais tarde, em Londres, onde fiz um doutoramento em Composição no King’s College, com George Benjamin e Silvina Milstein. O contacto com George Benjamin foi especialmente decisivo, porque me levou a questionar tudo o que fazia até então e a ter uma atitude simultaneamente mais exigente e mais pragmática em relação à composição. Esses quatro anos (2012 a 2016) foram muito importantes, não só pelo muito que aprendi, mas também por participar um pouco num meio tão cosmopolita e activo quanto o de Londres. Permitiram-me também ver com mais distância – e talvez com maior objectividade – a realidade da música e da cultura portuguesas; aliás, 80% da música que escrevi nesse período era música vocal com textos em português. Além destes contactos académicos, também foram decisivos os seminários que fui fazendo com vários ensembles e orquestras, incluindo o Remix Ensemble Casa da Música, o Quarteto Diotima, a Orquestra Gulbenkian e a London Symphony Orchestra. Esses seminários dão ao jovem compositor o privilégio de poder trabalhar a sua peça directamente com os músicos, sem a pressão de um concerto imediato, e é aí que muita coisa efectivamente se aprende – na prática. Outra experiência muito importante foi ter sido membro activo do Coral de Letras da Universidade do Porto durante 14 anos, entre 2004 e 2018. Foi lá que aprendi muitas coisas fundamentais sobre a música – e, portanto, sobre a composição: por exemplo, como conduzir uma frase, como lhe dar sentido. E aprendi isso não na teoria, mas na prática, com a orientação sempre iluminada do Maestro José Luís Borges Coelho. E, por fim, voltaria a uma das experiências iniciais. Entre 1997 e 2000 estudei guitarra com o Rui Vilhena, eminente guitarrista e membro das Vozes da Rádio. As aulas consistiam em tirar músicas de ouvido – sobretudo pop-rock – e aprender a tocá-las a partir daí. Foi fantástico começar a aprender um instrumento pela audição – não pela partitura – e num campo não limitado à música erudita. Aprendi imenso com isso e fortaleceu a minha relação – desde sempre muito forte – com a música rock.
Parte II · influências e estética
· No seu entender, o que pode exprimir e/ ou significar um discurso musical? ·
DM: O bom da música – e da arte em geral – é que tem muitos significados diferentes. Nem me parece que uma dada música, ou uma dada peça tenha um significado fixo ou necessário: tudo depende muito do contexto de quem ouve, de quem toca, onde se toca e quando se toca. A música não é apenas o som que circula no ar: a música é um acto interpretativo que surge da interacção entre o corpo e a mente de um ouvinte culturalmente situado e o estímulo sonoro. Na verdade, como eu também trabalho muito no âmbito da Teoria, Análise e Estética musicais, essas são questões fascinantes que me coloco todos os dias. Não sou nada exclusivista nessas matérias: acho que a música tem (ou pode ter) significados corporais e emocionais, temporais e filosóficos, sociológicos e ideológicos, além dos significados mais puramente técnicos e “especificamente musicais”. No caso da minha música, não me cabe a mim dizer que significados poderá ter; se tiver algum, os ouvintes poderão dizer, dando certamente – espero! – respostas muito diversas.
· Existem fontes extra-musicais que de uma maneira significante influenciem o seu trabalho? ·
DM: No meu caso, a referência extra-musical mais importante é certamente o cinema, que me fascina e interessa tanto quanto a música. Tenho, por isso, muitas peças influenciadas por diferentes aspectos do cinema, desde técnicas gerais (como o zoom ou a montagem) à estrutura narrativa, sons ou ambientes de filmes particulares. Já vários ouvintes me disseram que a minha música é muito visual, o que poderá ter a ver com isso. Mas entre processo consciente do compositor e resultado estético as coisas não têm de ser coincidentes. Por isso, mais uma vez, cabe a cada um ajuizar.
· No contexto da música de arte ocidental, sente proximidade com alguma escola ou estética do passado ou da actualidade? ·
DM: Sinto afinidade com várias correntes, e essas afinidades variam muito ao longo do tempo. Neste momento, em Setembro de 2020, e focando-me apenas em música do século XXI, destacaria a música de Ben Frost (em especial a banda sonora para a série alemã Dark); a música de Hans Abrahamsen (em especial Schnee); as sonoplastias altamente musicais de David Lynch (em especial na série Twin Peaks: The Return); alguma música “clássica” inglesa contemporânea (Adès, Benjamin e Knussen); a música dos Radiohead e de Björk; e alguma música de compositores pós-espectrais (Haas e Saariaho). Mais uma vez, não sei até que ponto essas referências transparecem para o ouvinte, ainda que várias delas tenham sido importantes na peça mais recente (um concerto para orquestra e electrónica intitulado Isto não é um filme). Já agora, para mim é óbvio que todas estas referências são “música de arte”, na medida em que são altamente sofisticadas do ponto de vista técnico e expressivo, procurando deliberadamente (e conseguindo, a meu ver) proporcionar uma experiência estética rica e multifacetada.
· Existem na sua música algumas influências das culturas não ocidentais? ·
DM: Não muito. Aprecio e valorizo muito a música de outras culturas, mas não creio que alguma delas tenha tido uma influência muito directa na minha música. Aquela que acabei por conhecer melhor é a música de Moçambique, em particular do sul de Moçambique, visto que visitei regularmente Maputo entre 2015 e 2017 no âmbito do Projecto Xiquitsi. Fiquei a conhecer alguma música fascinante, tanto a mais puramente tradicional como a marrabenta, que mistura ritmos tradicionais e harmonias europeias. E é certo que a minha música ficou mais rítmica depois dessa ida a África. Mas não encontraria aí um nexo
de causalidade, até porque fazê-lo implicaria reduzir um pouco a
música africana a um certo estereótipo europeu (de “música muito
rítmica”). Gostaria de conhecer melhor a música de outras culturas, de qualquer modo. Quando o fizer efectivamente, talvez possa trazer algo para a minha música. O importante é que as referências que trazemos sejam autênticas e profundas e não meramente superficiais.
· O que entende por “vanguarda” e o que, na sua opinião, hoje em dia pode ser considerado como vanguardista? ·
DM: Confesso que não é uma questão que me interesse muito enquanto compositor. O termo está muito associado a um certo contexto histórico da música erudita ocidental, o qual me parece – em 2020 – francamente distante. Na verdade, havia toda uma série de pressupostos que estavam na base da vanguarda – como a noção de progresso estilístico, e a ideia de uma separação radical entre música erudita e popular – que me parecem não fazer muito sentido hoje. Isto não significa que eu não aprecie imenso certa música dita de vanguarda (Boulez é um dos meus compositores preferidos, por exemplo), mas apenas que hoje em dia as opções são tantas e as práticas tão diversificadas que me parece algo inglório tentar definir o que é ou não vanguardista. Estar na vanguarda é estar à frente dos outros; mas não existe um caminho em que possam estar uns à frente e outros atrás. Há imensos caminhos, dos mais tonais aos mais atonais, dos mais melódicos aos mais texturais, dos mais puramente “eruditos” aos mais híbridos, dos mais acústicos aos mais electrónicos, dos mais puramente sonoros aos mais multimédia.
Parte III · linguagem e prática musical
· Caracterize a sua linguagem musical sob a perspectiva das técnicas/ estéticas desenvolvidas na criação musical nos séculos XX e XXI, por um lado, e por outro, tendo em conta a sua experiência pessoal e o seu percurso desde o início até agora. ·
DM: Não sei se eu tenho uma linguagem musical: seria um grande atrevimento assumir tal coisa! Utilizo, de qualquer modo, e como não poderia deixar de ser, várias técnicas para chegar a diferentes resultados. Penso que tendem para duas vertentes: por um lado, para uma certa ideia de massa sonora; por outro, para uma ideia de estratificação de materiais (no tempo e no espaço). A primeira deriva muito do meu estudo das técnicas micropolifónicas de Ligeti, das técnicas de phasing de Reich e da noção espectral de harmonia-timbre; a segunda de técnicas de sobreposição de camadas (no espaço) e justaposição abrupta de materiais contrastantes (no tempo), ambas muito por intermédio da música de Stravinsky. Na verdade, até começar o meu doutoramento em Londres, em 2012, a minha música tendia muito para a primeira vertente – a massa sonora; depois disso, inclinou-se mais para a segunda, sem dúvida por influência do contexto britânico, em que se tende a valorizar mais a transparência da textura; mais recentemente, tento combinar os dois aspectos. Tenho utilizado também frequentemente – conforme já mencionei acima – técnicas inspiradas pela linguagem do cinema. Um exemplo actual é o uso do contraste como princípio estrutural a todos os níveis da composição, por influência directa dos filmes e séries de David Lynch, em que esse aspecto é – de acordo com o próprio realizador – absolutamente central.
· No que diz respeito à sua prática criativa, desenvolve a sua música a partir de uma ideia-embrião ou depois de ter elaborado uma forma global? Por outras palavras, parte da micro para a macro-forma ou vice-versa? Como decorre este processo? ·
DM: Penso que o processo é muito variável, depende de cada peça. Mas desde a minha experiência em Inglaterra tendo cada vez mais a partir do material musical que tenho em mãos e a procurar dar-lhe forma, em vez de assumir uma estrutura a priori e procurar um material que a possa preencher. Prefiro pegar num certo material – seja um acorde, uma escala, um ritmo ou um sample electrocústico – e tentar descobrir o que é que ele me pode dar. Não impor-lhe previamente a minha vontade, mas escutá-lo, deixá-lo falar. E dos muitos caminhos que ele propõe – daqueles que eu consigo descortinar – escolho um (outros compositores veriam outras possibilidades e escolheriam outros caminhos). Há assim uma certa ideia de descoberta e incerteza no processo que eu aprecio particularmente, pois significa que eu próprio me posso surpreender. Aliás, tenho a impressão de que só quando o material nos surpreende é que podemos esperar que venha a ter algum impacto no público. Isto não significa que eu não possa ter uma ideia geral da peça antes de a começar, seja a nível do ambiente ou da estrutura. Mas frequentemente isso é apenas um ponto de partida que é depois moldado – ou modulado – pelo trabalho específico com o material.
· Como na sua prática musical determina a relação entre o raciocínio e os impulsos criativos ou a inspiração? ·
DM: Acho que há uma fronteira muito permeável entre raciocínio e inspiração. Às vezes aquilo a que chamamos inspiração é apenas um raciocínio muito rápido. E os raciocínios envolvidos no processo de composição não são necessariamente raciocínios no sentido convencional do termo, ou seja, raciocínios linguísticos, que se exprimem por palavras. Quem compõe – e quem toca, e quem ouve – recorre a uma certa forma de pensamento ou sensibilidade que não é necessariamente linguístico, mas que é especificamente sonoro, especificamente musical. Não significa isso que não se possa exprimir por palavras, e nós próprios como compositores precisamos de o fazer, para clarificar o problema que temos em mãos. E claro que usamos muitas técnicas que podem ser explicadas por palavras – ou, nalguns casos, por números. Penso, porém, que as escolhas mais importantes – pelo menos para mim – situam-se a um nível diferente, o qual tenho dificuldade em qualificar como racional ou intuitivo.
· Que relação tem com as novas tecnologias, e em caso afirmativo, como elas influenciam a sua música? ·
DM: Eu não sou daquelas pessoas que têm uma relação muito fácil ou imediata com a tecnologia. Tenho sempre uma certa resistência – ou preguiça – inicial. Mas depois de a vencer acabo por me adaptar bastante. No caso da composição, há um aspecto que eu uso há já bastante tempo, que é compor quase exclusivamente ao computador, e não ao papel. E uso técnicas que não funcionariam tão bem no papel. Uma delas é o copy-paste. Gosto muito de criar certos blocos de material e depois sobrepô-los e ver o que acontece. O computador permite-me ter logo uma ideia sonora do resultado, de forma muito mais rápida do que conseguiria no papel ou ao piano. E muitas vezes surpreendo-me – pela positiva! – com essa junção. Claro que tenho depois de trabalhar cada um dos materiais para encontrar a junção certa entre eles, mas o ponto de partida é possibilitado pela tecnologia. Não sou daqueles, por isso, que acha que a composição tem de ser feita ao papel porque o computador nos leva a sermos descuidados ou preguiçosos. Cada meio oferece as suas potencialidades e as potencialidades oferecidas pelo computador aproximam, curiosamente, a música escrita da música electrónica, na medida em que estes processos de copy-paste e de sobreposição de layers são muito próximos daqueles que correntemente se praticam numa digital audio workstation.
· Qual a importância do espaço e do timbre na sua música? ·
DM: É cada vez maior, em especial a partir do momento em que comecei a trabalhar música electrónica, algo que aconteceu verdadeiramente a partir de 2018, com a minha ópera Ninguém & Todo-o-Mundo, em que a composição, produção e mistura da electrónica esteve a cargo do Óscar Rodrigues (a partir de indicações minhas), e que aprofundei muito agora em 2020 com Isto não é um filme, uma peça em que fui já eu a fazer efectivamente a electrónica (sempre com o precioso acompanhamento – deveria dizer mesmo orientação – do Óscar). Isso não significa que o timbre e o espaço não fossem já aspectos importantes na minha música puramente acústica, em especial o timbre. E houve pelo menos uma peça em que utilizei deliberadamente o aspecto espacial: uma recomposição de música de Bach, para 100 flautas, 100 saxofones e 100 clarinetes, em que a gigantesca massa instrumental estava espalhada por diferentes pontos da sala. Mas curiosamente até chegar à electrónica eu pensava sobretudo em harmonia e forma, não tanto no timbre, pelo menos não de forma directa. Desde que comecei a trabalhar mais a sério a electrónica o timbre tornou-se muito mais central – mesmo na escrita instrumental. Grande parte do trabalho na electrónica é mesmo sobre o som: é moldar o timbre de forma muito consciente e deliberada. Aliás, o próprio meio electroacústico dá-nos representações e transformações do timbre, enquanto que a notação tradicional representa sobretudo notas e durações. Mas o timbre não é apenas um aspecto objectivo que se pode representar num espectrograma ou ser transformado por um filtro, uma distorção ou um reverb. É também uma dimensão profundamente subjectiva da música, que se liga a afectos e ambientes. E desse ponto de vista já há muito que eu trabalhava indirectamente o timbre, pois esse aspecto do carácter emocional da música é algo que desde sempre me interessou (a par da harmonia e da forma). Mas agora está cada vez mais ligado de forma consciente ao timbre.
· Quais as obras que pode considerar como pontos de viragem no seu percurso? ·
DM: São várias. É curioso que eu mudo normalmente de forma lenta e gradual, e há se calhar alguns aspectos da minha música que se mantêm sempre, mas ao mesmo tempo se compararmos o que faço agora com o que fazia em 2015 ou em 2010 penso que é muito diferente. Entre esses pontos de viragem, destacaria: Introspections (2006), uma peça para septeto, a primeira composta como aluno da ESMAE, com muitas influências de música espectral; o Trio (2010) para flauta, clarinete e piano, em que pela primeira vez adoptei uma linguagem mais diatónica e consonante; o Sextet (2013), a primeira peça composta em Londres, com uma textura mais transparente e um discurso mais fragmentado do que qualquer peça anterior; o Desconcerto do Mundo (2016), uma peça para ensemble e coros amadores, em que pela primeira vez introduzi um elemento de humor e uma aproximação explícita à música popular; Ninguém & Todo-o-Mundo (2018), uma ópera em torno de Gil Vicente em que, além de usar electrónica pela primeira vez, faço uso muito consciente de referências e citações, algo que me interessa muito actualmente; Isto não é um filme (2020), um concerto para orquestra e electrónica, acabado de estrear, em que aprofundo o trabalho com a electrónica e uma aproximação mais explícita a certas formas de música (e sound design) para cinema.
· Em que medida a composição e a performance constituem para si actividades complementares? ·
DM: Tenho hoje alguma pena de não ter seguido também uma carreira de performance, pois penso que as duas actividades podem ser mutuamente enriquecedoras. Penso até que o modelo ideal é de um compositor que é também performer. No meu caso, acabei por desenvolver uma outra complementaridade: entre a composição e a teoria/ análise. Gosto de dizer que sou 55% compositor e 45% teórico/ analista. São dois campos muito diferentes, e tenho de assumir um mindset diferente consoante pratico uma ou outra coisa, mas ao mesmo tempo sou sempre a mesma pessoa e por isso as duas actividades influenciam-se mutuamente.
Parte IV · a música portuguesa
· O que, em seu entender, distingue a música portuguesa no panorama internacional? ·
DM: Tenho muita dificuldade em responder de forma clara a essa pergunta, mesmo no campo “clássico”/ ”erudito” contemporâneo, que é aquele que conheço melhor (em relação a jazz, pop-rock, músicas tradicionais e outras teria ainda mais dificuldade em responder). Acho, em qualquer caso, que na música “erudita” estamos actualmente muito longe das escolas nacionalistas do final do século XIX e início do século XX – e ainda bem! Ou seja, não vejo necessariamente algum aspecto que marque decisivamente uma diferença entre a música portuguesa e a música de outros países. Diferentes compositores têm diferentes referências, uns mais ligados a compositores franceses, outros a compositores germânicos, outros a compositores ingleses ou americanos. E mesmo cada um desses países tem também um cenário complexo. É certo que há lugares-comuns – por exemplo, que os franceses valorizam mais a microtonalidade do que os ingleses – mas não sei bem até que ponto podemos generalizar.
Parte V · presente e futuro
· Quais são os seus projectos decorrentes e futuros? ·
DM: Acabo de estrear uma peça para orquestra e electrónica, que teve um grande impacto no meu trabalho. Pretendo assim desenvolver no futuro imediato uma série de projectos de música mista, mas agora mais com foco em música de câmara. Gostaria até de gravar um álbum com essa música.
· Como vê o futuro da música de arte? ·
DM: Não tentarei fazer futurologia. O que posso dizer, por isso, é mais aquilo que gostaria que acontecesse do que aquilo que penso que irá necessariamente acontecer. O que gostaria fundamentalmente é que se esbatessem muitas das fronteiras arbitrárias que ainda existem entre diferentes géneros musicais. O jazz, por exemplo, é um mundo riquíssimo, extremamente sofisticado e variado, mas está ainda muitas vezes afastado da aprendizagem dos compositores e instrumentistas de música “clássica”, sem dúvida um resquício ainda (entre outros factores) de uma desvalorização institucional do jazz pela sua origem racial predominantemente negra. Do mesmo modo, aquilo a que chamamos pop-rock não é um manto de banalidades ou música inferior como muitas vezes gostamos de dizer no campo da música “erudita”, mas um campo extremamente diversificado que inclui – além de muito lixo, claro – abordagens extremamente sofisticadas a aspectos como o timbre e o ritmo. E, francamente, muita da melhor música electrónica que tenho ouvido vem do cinema, em que a fronteira entre música e sonoplastia se tem cada vez mais esbatido. É um erro – e uma arrogância – assumir que a música de arte só existe naquilo a que chamamos “música erudita”. Não estou a defender, de resto, uma fusão ou indiferenciação destes diferentes géneros. Quer queira quer não, a minha formação, por exemplo – as minhas raízes – são sobretudo no âmbito da música “clássica”. E cada um tem as suas raízes e a sua formação. Mas os diferentes campos precisam de dialogar mais, sem perderem necessariamente a sua autonomia. Penso que só têm a ganhar com isso.
Daniel Moreira, Outubro de 2020
© MIC.PT